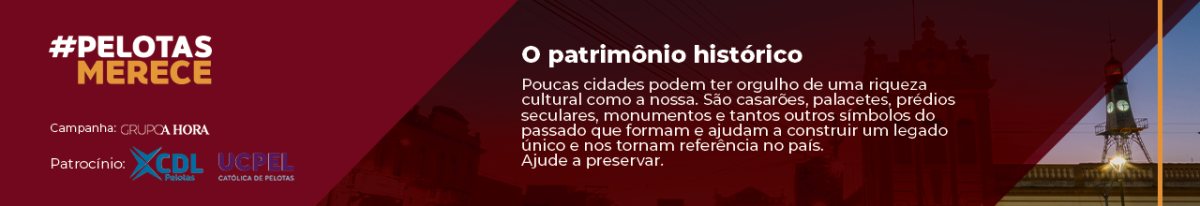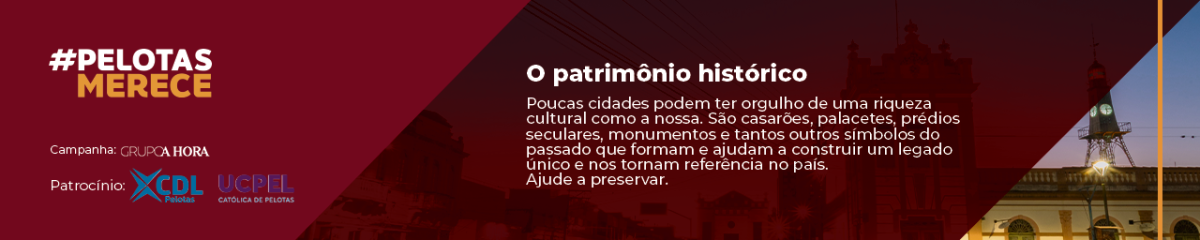Na última quinta-feira fui a Porto Alegre para consultar com um neurologista – o quarto que eu veria neste ano. Sempre fui uma pessoa saudável. Nunca tirei um siso nem apêndice. Nunca fiquei mais de uma hora em um hospital.
Até o dia 8 de fevereiro, que daria início ao fato que me transformou e mudou toda a trajetória da minha vida: tive minha primeira convulsão. A primeira de muitas, inúmeras, que me deixariam o mês inteiro na UTI de dois hospitais.
Confesso – já tentei escrever sobre esse tópico algumas vezes e nunca consegui encontrar um jeito certo de explicar. Ainda não acredito que isso realmente aconteceu comigo.
Depois de muitos erros e acertos, encontramos o diagnóstico de epilepsia. Fisioterapia para reaprender a caminhar, remédios, perda de cabelo, mais remédios, aumento de peso, pilates, mais remédios. As convulsões seguiram, mas cada vez mais espaçadas e curtas, de um jeito administrável à minha rotina. O meu erro foi achar que eu seguiria a mesma de antes. Nove meses depois, finalmente entendi: aquela pessoa de antes não existe mais. Antes eu tinha muito medo da morte; hoje tenho medo de não estar vivendo o suficiente.
Enfim, na sala de espera do neurologista número quatro, na nossa capital, fui posicionada exatamente na frente de uma senhora de noventa anos, em uma cadeira de rodas. Ela me olhava fixamente, e eu devolvia o olhar. Suas acompanhantes disseram que ela ria, falava bobagem e palavrão, e tinha muita energia – antes de ficar assim, sem palavras.
Minha mãe me olhou sorrindo e disse:
— Vou falar para o doutor que contigo aconteceu exatamente o contrário. “Doutor, agora ela sai mais, fala mais bobagem, tem menos inibição e ri muito mais!”
Rimos juntas. Eu fui colocada à frente do que facilmente poderia ser eu e, por algum motivo, não foi. Então, nove meses depois, eu, meu pai e minha mãe entendemos: o maior sintoma que carrego de tudo que aconteceu é a minha pressa de viver.